Efeitos da centralização e descentralização no processo
brasileiro de municipalização: o caso da região norte
Marília
Steinberger
Regina de Souza
Maniçoba*
Abstract
The period of decentralisation, starting with the
Constitution on 1988, generated an intense territorial fragmentation in the
country, in particular, within the Northern Region. A comparative study of the
life quality in both the old and new municipalities in this region has shown
that in the majority of the new ones, contrary to what was expected, there was
an improvement. This fact, besides contributing to demystify the idea of the
creation of new municipalities as a negative factor for the population,
highlights a different aspect in the traditional debate that relates this
creation with the local interests of obtaining more resources from the Central
Government, and thus reinforces their financial dependency.
Keywords: decentralisation,
territorial fragmentation, life quality, city, territory.
Resumo
O período de
descentralização, iniciado com a Constituição de 1988, gerou uma intensa
fragmentação territorial no país e, em particular, na Região Norte. A
investigação comparativa sobre a qualidade de vida nos municípios novos e
antigos nesta região mostrou que, na maioria dos novos, ao contrário do
esperado, houve de fato uma melhoria. Tal constatação, além de contribuir para
desmistificar a idéia da criação de novos Municípios como um fator negativo
para a população, ressalta um aspecto diferente no debate tradicional que
relaciona esta criação apenas aos interesses locais de obter mais recursos do
Governo Central e, assim, reforçar a dependência financeira.
Palavras clave: descentralização, fragmentação territorial, qualidade de
vida, cidade, território.
*
Universidade de Brasília. Correos-e: rtlia@solar.com.br y manicoba@unb.br.
Introdução
A Região Norte[1]
(figura i) tem apresentado, em
pouco mais de quarenta anos, um considerável aumento em seu processo de
urbanização. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ibge), o crescimento urbano verificado
na região foi o maior do país: a população urbana, que correspondia a
aproximadamente 1.6 milhões de habitantes em 1970, atingiu mais 3 milhões em
1980, chegou a quase 6 milhões em 1990 e ultrapassou 9 milhões em 2000.
Figura i
Regiões
geográficas
BRASIL
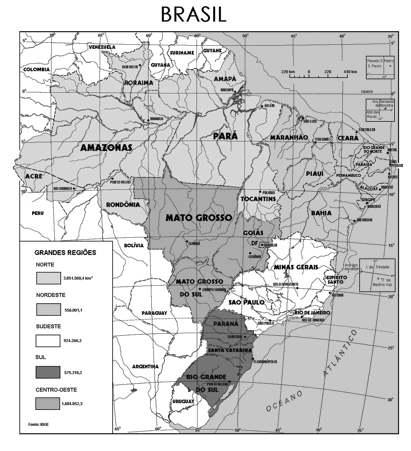
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ibge, http://www.ibge.gov.br).
Alguns autores
consideram que a criação de novos Municípios,[2]
permitida a partir da vigência da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, é um dos principais fatores responsáveis por este aumento.
Outros argumentam que a descentralização e a autonomia, preconizadas nesta
Carta Magna, vem gerando, acima de tudo, uma fragmentação territorial cujos
efeitos sobre a população regional ainda são pouco estudados.
Tomando como
base estas questões, pretende-se analisar as conseqüências da criação de novos
Municípios na Região Norte depois de 1988, no que diz respeito à melhoria ou
agravamento da qualidade de vida de sua população. Nesse sentido, a título de
ensaio, escolheu-se o número de domicílios ligados à rede de água como
indicador para realizar uma análise comparativa entre Municípios criados após
1988 e aqueles dos quais foram desmembrados, por ser este considerado uma
referência básica em políticas públicas.
Para abordar tal
tema, este artigo está dividido em três seções. A primeira traça um breve
histórico sobre o processo de municipalização brasileiro e o duplo movimento de
centralização-descentralização, emanado a partir das várias Constituições
promulgadas desde 1891. A seguir, discute-se o entendimento de fragmentação
territorial e de qualidade de vida, à luz de dois conceitos básicos: território
e cidade. Por fim, apresenta-se um quadro geral sobre a criação de Municípios
na Região Norte após 1988, e selecionam-se alguns deles para mostrar a
qualidade de vida anterior e posterior à fragmentação.
1. Descentralização e
municipalização no Brasil
Discorrer sobre
descentralização não é uma tarefa simples, pois existem controvérsias a
respeito do seu significado. Muitos autores, a exemplo de Limana (1999),
enfatizam que no Brasil sempre prevaleceu a centralização. Consideram que no
Império[3]
ela foi fundamental para a sobrevivência econômica, centrada no binômio escravo-latifúndio,
herança do período colonial. Argumentam que, com o advento da República,
mudou-se o regime, mas não a centralização. Entretanto, outros autores, como
Steinberger (1994), mostram que a história do Brasil sempre foi marcada por
movimentos alternados de centralização e descentralização, tanto no período
colonial, quanto no Império e na República.
Mas em que
consiste exatamente o termo descentralização? Para Souza (1998):
[…] apesar de
políticas descentralizadas estarem em voga, o conceito de descentralização é
vago e ambíguo. A popularidade da descentralização respalda-se em vários
fatores, dentre eles nos ataques da direita e da esquerda contra o poder
excessivo dos governos centrais […]. Enquanto alguns autores enfatizam a
desconcentração administrativa, outros vêem a descentralização como uma questão
política que envolve uma efetiva transferência de autoridade para setores,
parcelas da população ou espaços territoriais antes excluídos do processo
decisório.
De fato, em
geral, o debate sobre descentralização comporta duas acepções: o papel do
estado em relação à iniciativa privada, aos movimentos sociais e às
organizações não governamentais, onde a descentralização está ligada à redução
do papel do Estado que, de provedor e executor, passa a ser eminentemente
regulador; e o papel da União em relação aos estados e Municípios, que envolve
a partilha de poder entre as três instâncias da administração do país. Neste
trabalho, o termo descentralização está sendo utilizado com a segunda acepção,
na medida em que ela permite discutir o papel do município como entidade da
federação e órgão gestor dos governos locais.
Para entender a
importância do Município, cabe apresentar uma breve descrição da sua história,
desde o período colonial, passando pelas Constituições republicanas, até a
atualidade. Isso porque, assim como a própria história do país, a história do
Município também sempre foi marcada por movimentos de centralização e
descentralização.
O resgate desta
história, realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (ibam) (ibam, 2004), mostra que todas as
vilas brasileiras, desde as primeiras, fundadas pelos portugueses, seguiram o
modelo e a estrutura das administrações municipais lusitanas que possuíam “um
Presidente, três Vereadores, um Procurador, dois Almotacés, um Escrivão, um
Juiz de Fora vitalício e dois Juízes Comuns, eleitos com os Vereadores”. Tal
estrutura revela que, de uma certa maneira, as vilas coloniais comportavam os
três poderes municipais que hoje se denominam de Executivo, Legislativo e
Judiciário. No entanto, apesar da submissão dos Municípios à Metrópole, estes
tiveram mais autonomia do que se supunha, pois em períodos de descentralização,
conseguiram até algumas reconhecidas “vitórias, desafiando a Coroa, como é o caso
da criação de novas vilas […], que ocorreu sem autorização real, pela força e
determinação do povo, como exemplificaram os fatos registrados em Campos,
Parati e Pindamonhangaba, no século xvii”.
Já, no período imperial predominou o “cerceamento da atuação das Câmaras
Municipais, que perderam funções políticas e financeiras”, tendo sido
transformadas em “corporações meramente administrativas”, embora tenham
ocorrido movimentos de descentralização, principalmente entre 1830 e 1840. Esta
alternância entre conquista e redução de autonomia municipal, que marcou os
períodos colonial e imperial, foi se repetindo ao longo da história.
Ainda segundo o ibam, na República Velha,[4]
foi a centralização que garantiu a permanência das oligarquias regionais, e
seus respectivos desdobramentos estaduais, no poder nacional. Assim, apesar da
Constituição de 1891 trazer, entre suas premissas, a autonomia dos Municípios,
estes se tornaram objeto de manipulação ostensiva destas oligarquias. Os
acontecimentos políticos ocorridos neste período acabaram por precipitar a
reforma constitucional de 1926 que deu à União o direito de intervir nos
Estados para proteger a autonomia municipal pondo fim assim, ao abuso e
arbitrariedade dos Estados sob seus Municípios. Com o fim da República Velha em
1930 e o início da Era Vargas, a Constituição de 1891 foi suspensa tendo sido
promulgada uma nova Constituição em 1934. Com esta:
[…]
restabelecia-se a Federação, reduzia-se a competência dos Estados, inclusive
sobre a organização municipal, cuja autonomia adquire nível de importância
equivalente à da União e à dos Estados, explícita e claramente definida no
artigo 13.
Porém, novamente
os acontecimentos políticos acabaram por impedir que a autonomia dos municípios
pudesse ser exercida. Com o golpe de Estado, em 1937, teve início o Estado
Novo, um período de intensa centralização política, quando as Câmaras
Legislativas foram dissolvidas e os estados passaram a ser governados por
Interventores Federais, a quem cabia a escolha dos Prefeitos. Seguindo o mesmo
espírito de centralização, uma nova Constituição foi promulgada em 1937. Entre
as conseqüências desta, Ferreira (1986) ressalta a diminuição da autonomia dos
estados e dos Municípios. Entretanto, o ibam
(2004) chama atenção para dois pontos que garantiram a sobrevivência dos
Municípios:
(a) manteve-se
a arrecadação municipal sobre indústrias e profissões […]; (b) generalizou-se
nos Estados a criação de Departamentos de Assuntos Municipais, o que, em
princípio, visava controlar os governos locais, mas, por outro lado, tinha
funções de assistência técnica que muito contribuiu para a racionalização das
administrações municipais […]
Com a deposição
de Getúlio Vargas, em 1945, o governo do general Eurico Gaspar Dutra[5]
promulgou uma nova Constituição em 1946. Nesta, os princípios democráticos
foram retomados e, ao mesmo tempo, houve um restabelecimento parcial da
autonomia dos Estados e Municípios (Ferreira, 1986). Parcial porque a feição
municipal que emergiu do texto constitucional dispunha que o Município era uma
das três esferas político-administrativas do país, junto com a União e os
estados, e que seus Prefeitos e Vereadores seriam eleitos pelo povo, à exceção
dos que abrigassem capitais, estâncias hidrominerais, bases ou portos
militares, e fossem fundamentais para a defesa externa. Impediu-se assim, que
quase a metade da população brasileira tivesse o direito de escolher seus
Prefeitos e Vereadores.
A Constituição
posterior, de 1967, foi fortemente influenciada pela atmosfera de autoritarismo
e restrição de direitos que marcaram a ascensão dos militares ao poder em 1964.
A autonomia presente na Constituição anterior, assim como a própria criação de
novos municípios, ficaram comprometidas, devido às novas exigências então
impostas. Delegou-se às Assembléias Legislativas dos Estados, a criação,
incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios, que devia ocorrer de
acordo com os seguintes critérios: população superior a 10 mil habitantes ou
não inferior a cinco milésimos do total de habitantes do estado; eleitorado não
inferior a 10% da população; centro urbano com, no mínimo, 200 casas; e
arrecadação municipal no último exercício de, no mínimo, 0.005% da receita
estadual. Além disso, deveria ser realizado um plebiscito entre os munícipes
(Freitas, 1998). Entretanto, dois anos depois, a Emenda Constitucional de 1969,
segundo Rodrigues (2003) congelou a divisão territorial brasileira e, com ela,
a criação de novos municípios.
A década de 80
inaugurou uma nova era no país. A continuidade do processo de abertura
política, iniciado em fins dos anos 70, teve como marco as eleições diretas
para governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais
realizadas em novembro de 1982, em decorrência da aprovação de uma Emenda
Constitucional naquele mesmo ano. Entretanto, somente em 1985, também por
Emenda Constitucional, restabeleceram-se as eleições diretas para todos os
Municípios, inclusive os considerados de segurança nacional pelo regime
militar. No ano seguinte o Congresso ganhou poderes constituintes para elaborar
uma nova Constituição que foi promulgada em fins de 1988.
Com ela
iniciou-se um novo período de descentralização na história dos Municípios
brasileiros. Isso porque, seguindo a premissa de autonomia, o artigo 18,
associado ao artigo 30, facultaram o descongelamento da divisão territorial
brasileira. Os Estados ganharam a possibilidade de incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
Estados. Paralelamente, também cabe aos Estados a criação, incorporação, fusão
e o desmembramento de Municípios, mediante consulta prévia das populações dos
Municípios envolvidos, por meio de plebiscito. Por sua vez, entre as
competências dos Municípios está a prerrogativa de criar, organizar e suprimir
distritos.
Além disso, a
Constituição de 1988 trouxe ainda, entre os dispositivos referentes aos
Municípios, outro ponto importante: o aumento nos percentuais destinados pela
União ao Fundo de Participação dos Municípios (fpm).[6] O
percentual de 17% instituído pela Emenda Constitucional de 1983 foi elevado
para 20.5%.
Impulsionados
pela autonomia e pelo aumento do fpm,
os Estados permitiram que o número de Municípios aumentasse significativamente.
Conforme os dados do ibge, em 1980
existiam 3,991 Municípios e, em 2000, esse número saltou para 5,507 o que, em
princípio, denota fragmentação territorial. Considerando as cinco regiões
brasileiras, definidas pelo ibge,
é possível observar que em termos absolutos, a Região Sul e a Região Nordeste,
foram as que mais criaram novos Municípios entre 1980 e 2000 – respectivamente
440 e 412, seguidas pela Sudeste com 256, Norte com 246 e, finalmente a
Centro-Oeste com 162. Entretanto, quando se verifica a relação entre o número
de Municípios novos e os já existentes, a Região Norte desponta como aquela em
que os novos representam mais do que o dobro, 121%, ao passo que nas demais
eles correspondem, no máximo, a 60%, caso da Região Sul. Por esta razão, a
Região Norte será utilizada como estudo de caso neste artigo.
Com o objetivo
de conter a desenfreada criação de novos Municípios, em fins de 1996, foi
proposta e aprovada uma Emenda Constitucional em que se manteve a competência
estadual para criar, incorporar, fundir e desmembrar Municípios, mas
acrescentou-se a necessidade de elaborar e divulgar “Estudos de Viabilidade
Municipal”, a serem apresentados e publicados na forma da lei. Para constatar a
eficácia desta Emenda, examinaram-se os dados referentes ao ano de instalação
dos novos Municípios nos sete Estados da Região Norte. Para o conjunto
regional, segundo informações especiais enviadas pelo ibge, 44 Municípios passaram a ter existência jurídica no
ano de 1997 e apenas um em 1998. Admitindo que este número esteja relacionado à
Municípios criados entre 93 e 96, cujos processos de instalação já se
encontravam em andamento por ocasião da aprovação da Emenda, pode-se dizer que
na Região Norte, de fato, houve um freio na fragmentação. Entretanto, quando se
consulta o site do
ibge referente à “Organização do
Território”, o arquivo dos Municípios instalados em 2001 mostra o surgimento de
54 novos Municípios no Brasil como um todo (30 na Região Sul, todos no Rio
Grande do Sul; 17 na Região Centro-Oeste; 5 na Nordeste; e 2 na Sudeste). Mas,
afinal o que levou o legislador a preocupar-se em conter a fragmentação
territorial? Ela é danosa ou benéfica? Para quem?
Becker (2003:
655), ao enumerar as características e os indicadores que vem contribuindo para
a Amazônia tornar-se uma “floresta urbanizada”, afirma que:
Entre 1970 e
1980, foram principalmente a imigração e a mobilidade do trabalho os fatores
fundamentais do crescimento urbano. Após 1988, a criação de municípios torna-se
uma razão central no crescimento urbano, além da mobilidade intra-regional, e
muito menos a migração externa, que se reduziu.
Na verdade essa
preocupação não é nova. Alguns anos antes a mesma autora (Becker, 2000: 57), ao
construir cenários de curto prazo para o desenvolvimento da Amazônia
assinalava:
[…] o ritmo de
urbanização, embora acelerado até agora, tende a se desacelerar por duas
razões. Primeiro, a multiplicação de núcleos na década de 90 se fez em grande
parte devido a um intenso processo de formação de novos municípios – em que
cada um tinha como sede uma cidade (qualquer que fosse o seu tamanho) – mas que
parece não ter ido adiante. Segundo ocorreu redução da imigração […] A
desconcentração urbana mais recente não foi fruto da migração, mas sim da
criação de municípios em decorrência da Constituição de 1988, que estabelece a
transferência de recursos e, em menor proporção, de responsabilidades para o
município, em nome da descentralização. A questão crucial é saber se tal
descentralização corresponde, efetivamente ou não, a uma maior autonomia, ou
seja, uma verdadeira emancipação política e financeira.
Na mesma linha
de argumentação, Steinberger e Ferreira (2003: 5), referem-se explicitamente à
fragmentação territorial e à governabilidade decorrente da criação de novos
Municípios. Assim:
A Constituição
de 88 retomou a possibilidade de criação de novos municípios, o que não só
trouxe a fragmentação territorial, como fomentou o crescimento urbano com a
passagem de vilas e povoados à categoria de cidade. Atualmente, existem mais de
5.700 municípios e, portanto, igual número de cidades, além de aproximadamente
15 mil núcleos urbanos, o que nos remete à questão da governabilidade do espaço
urbano. A descentralização, como princípio básico da Constituição, deu maior
autonomia aos municípios, sem que, no entanto, todos eles tivessem uma
correspondente base econômica, financeira, gerencial e logística para fazer
frente às novas atribuições.
O reconhecimento
de que a criação dos Municípios gera fragmentação territorial e exerce uma
influência significativa sobre o crescimento urbano, aliado ao questionamento
da descentralização corresponder ou não à autonomia e governabilidade,
constituem aspectos, indiscutivelmente, cruciais para o debate. Entretanto,
ainda não chegam ao fundo da questão, ou seja, as conseqüências da criação de
novos Municípios no que diz respeito à melhoria ou agravamento das condições de
vida de sua população. Assim, não permitem responder se a fragmentação
territorial, decorrente da criação de novos Municípios, é danosa ou benéfica, e
para quem. A importância do presente artigo está exatamente em avançar sobre
este ponto, analisando a qualidade de vida da população de alguns Municípios
criados após 1988 e daqueles dos quais foram desmembrados. Acredita-se que
estudos e investigações desse tipo podem subsidiar a formulação de políticas públicas.
Antes de entrar
na discussão sobre o caso específico da Região Norte, cabe apresentar uma breve
discussão sobre fragmentação territorial e qualidade de vida, à luz dos
conceitos de território e cidade que se constituem a base da temática ora apresentada.
2. Fragmentação
territorial e qualidade de vida: uma discussão conceitual
Em geral, as
expressões fragmentação territorial e qualidade de vida não têm merecido
abordagens conjuntas porque, à primeira vista, elas não estão visivelmente
relacionadas. Para buscar a sua relação é preciso considerar que a fragmentação
territorial faz parte de um processo mais amplo, o de produção e organização
espacial, e que, por outro lado, a qualidade de vida está inserida em um
processo também mais amplo, o de integração social. A partir daí é possível
perceber que esses dois processos, o de produção e organização espacial e o de
integração social, aliados a outros dois, os processos de crescimento econômico
e de formação política, constituem-se os vetores de um todo bem mais complexo
que é o desenvolvimento. Com base neste entendimento, a relação entre
fragmentação territorial e qualidade de vida ganha visibilidade. Esta acepção,
embora proposta por Steinberger e Ferreira (2003), no âmbito das premissas de
uma Política Urbana Nacional 2003-2006, pode ser transposta para o tema ora
tratado, principalmente no que diz respeito ao vetor espacial.
Ao discorrer
sobre o processo de produção e organização espacial, Corrêa (1995: 35-6)
explica:
No longo e
infindável processo de organização do espaço o Homem estabeleceu um conjunto de
práticas através das quais são criadas, mantidas, desfeitas e refeitas as
formas e as interações espaciais. São as práticas espaciais, isto é, um
conjunto de ações espacialmente localizadas que impactam diretamente sobre o
espaço, alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o em suas formas e
interações espaciais. […] As práticas espaciais são ações que contribuem para
garantir os diversos projetos. São meios efetivos através dos quais objetiva-se
a gestão do território, isto é, a administração e o controle da organização
espacial em sua existência e reprodução. […] as práticas espaciais são as
seguintes: seletividade espacial, fragmentação - remembramento espacial, antecipação
espacial, marginalização espacial […] (grifo nosso).
Para Corrêa
(1995: 37), fragmentação é uma prática espacial corrente, uma vez que o espaço
está sempre sendo dividido em unidades territoriais cujas porções são
controladas por diversos agentes, sejam eles “uma comunidade aldeã, uma
Cidade-Estado, uma organização religiosa, o Estado moderno, poderosas empresas
ou grupos que se identificam por uma dada especificidade e numa dada porção do
espaço”. Entre os vários exemplos que cita, o autor refere-se explicitamente à
fragmentação de Municípios no território brasileiro.
As colocações
acima também mostram que a fragmentação espacial está associada à gestão do
território. Território entendido como “espaço revestido da dimensão política,
afetiva ou ambas” (Corrêa, 1994: 251). Entendido também como “espaço onde se
projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência,
revela relações marcadas pelo poder” (Raffestin, 1993: 144). Ou ainda como
“espaço definido por e a partir de relações de poder” (Souza, 1995: 78).
No que diz
respeito à criação de novos Municípios, essa imbricação entre fragmentação,
território e poder, leva a indagar de onde emana o poder para sugerir que o
território municipal seja fragmentado. Em princípio, como já ressaltado antes,
este poder foi outorgado pela própria Constituição que, ao abrir a
possibilidade de se criarem novos Municípios e, paralelamente, aumentar o
percentual do fpm, de uma certa
maneira, contribuiu para viabilizar a fragmentação. No entanto, falta
identificar qual a motivação para o uso extensivo dessa prerrogativa.
Reconheceu-se
anteriormente que a criação de Municípios gerou uma multiplicação de cidades e
um aumento do ritmo de urbanização. Estará a motivação ligada à “condição
urbana”? Para responder é preciso lembrar que para a maior parte dos países, o
critério adotado para se definir cidades é o demográfico. Entretanto, segundo
Veiga (2002: 65), apenas no Brasil, El Salvador, Equador, Guatemala e República
Dominicana, todas as sedes de Município são cidades. Ele ressalta que, no
Brasil, isso se deve à vigência plena do Decreto-lei 311/1938 e à
desconsideração de outras variáveis como tamanho da população, densidade e
localização. Assim, muitas localidades com uma população ínfima são cidades
apenas por serem sede municipal. Esse decreto somado ao dispositivo
constitucional do artigo 18, antes referido, não só reforça como confirma que
criar novos Municípios equivale a criar novas cidades, o que sugere a
necessidade de discutir brevemente os conceitos de cidade e de espaço urbano no
que se refere à sua relação com o(s) poder(es).
Cidade, conforme
o senso comum, é o lugar de concentração da população e de atividades. Vários
estudiosos têm se dedicado a buscar definições de cidade. Rolnik (1988) mostra
que a compreensão da cidade envolve diferentes perspectivas, entre as quais ela
destaca: a cidade como um imã, a cidade como escrita, a cidade política e a
cidade como mercado. Imã porque é um campo magnético que atrai, reúne e
concentra os homens. Escrita porque, como local de moradia, trabalho e
produção, gera excedentes e proporciona acumulação de riquezas e conhecimentos
registrados pela escrita. A cidade política diz respeito ao exercício de
dominação da autoridade político-administrativa sobre o conjunto dos moradores.
Por fim, a cidade como mercado surge devido à aglomeração de uma numerosa
população em um espaço limitado, que estabelece não só a divisão do trabalho
entre campo e cidade, como uma especialização do trabalho no seu interior.
Aliás, na concepção weberiana a “cidade” é um lugar de mercado (Weber, 1987).
Já Borja (1997: 85), ressalta a importância de se entender a cidade não apenas
como:
[…] um
território que concentra um importante grupo humano e uma grande diversidade de
atividades, mas também como um espaço simbiótico (poder político/sociedade
civil) e simbólico (que integra culturalmente e confere identidade coletiva a
seus habitantes, tendo valor de troca com o exterior) que se transforma em um
campo de respostas possíveis aos desafios econômicos, políticos e culturais de
nossa época.
Preteceille
(1996), por sua vez, define a cidade como o lugar da intervenção da política –
lugar do exercício e da concentração do poder político. Souza (1997) considera
a cidade como o lugar das redes, o lugar da técnica e destaca a associação
conceitual entre cidade e urbano, utilizando Santos (in Souza, 1997) para quem:
“a cidade é o concreto, o conjunto de redes, enfim a materialidade visível do
urbano enquanto que este é o abstrato, porém o que dá sentido e natureza à
cidade”. Essa associação entre cidade e urbano tem como base o conceito de
espaço. Espaço que, como diz Lefebvre (1999: 49), sempre foi político porque “a
existência urbana se confunde com a existência política”.
Steinberger e
Romero (2000: 16) definem o espaço urbano como “espaço de aglutinação de
interesses socioeconômico e político-cultural”, ou seja:
[…] espaço
relacional, cujo alcance e significado é definido por relações externas e
internas. As externas estão ligadas não somente à concentração da oferta e
demanda de emprego, bens e serviços, como enfatizado nas teorias neoclássicas
de economia urbana e regional, mas, fundamentalmente, ao fato do espaço urbano
ser ponto de apoio para a formação de uma rede urbana por onde circulam os
interesses. Ao mesmo tempo, internamente, o espaço urbano configura-se como um
sítio de condições privilegiadas, onde a construção física, a localização e o
próprio modo de vida, propiciam a implantação de assentamentos humanos que
aglomeram pessoas, atividades, idéias e informações.
Além disso, o
espaço urbano é, por excelência, o lócus de negociação de agentes e atores
sociais, que possuem interesses territoriais distintos e expressam seu poder
sob a forma de conflitos e tomadas de decisões. Em outras palavras, os espaços
urbanos são políticos e caracterizam-se como territórios de encontros, onde
ocorrem articulações inclusive sobre os negócios do mundo rural (Steinberger,
2001a).
Tais
articulações e negociações se materializam nas cidades, entendidas elas mesmas
como manifestações do poder de agentes e atores sociais. Assim, sugere-se aqui
que a motivação para criar novos Municípios e, conseqüentemente, no caso do
Brasil, novas cidades, é de caráter eminentemente político. É a fragmentação
das áreas de poder e mando existentes e a possibilidade de criar novas que está
por trás do surgimento de tantos Municípios.
Essa sugestão é
apoiada pela idéia de Becker (1990) de que o novo significado da urbanização na
Amazônia se relaciona ao papel dos núcleos urbanos como lócus da ação
política-ideológica do estado, na medida em que abrigam: a sede do aparelho de
estado local, da Igreja e dos grupos hegemônicos da fração não-monopolista em
formação na nova sociedade local; e o lugar de preparação da população para
exercer seu papel na sociedade.
A mesma autora,
em um trabalho mais recente (Becker, 2003: 655-6), reafirma tal idéia ao dizer:
[…] há que se
registrar a importância da dimensão política no processo de urbanização
regional. A começar pela presença do aparato institucional dos diferentes
escalões do governo, seguindo pelo papel das lideranças locais e seus lobbies
na própria criação de vilas e distritos, e pela presença das organizações das
sociedades civis que se localizam em cidades que servem a redes sociais, nem
sempre correspondendo às capitais regionais. Em suma, o processo de urbanização
regional não está associado a dinâmicas econômicas, nem à industrialização nem
à agricultura moderna, a não ser em áreas localizadas. Mas se a base econômica
municipal e urbana é fraca, seu papel político é essencial nas tomadas de
decisões para controle do território e para a gestão ambiental, constituindo
parceria política não mais negligenciável.
Embora,
admita-se que este tipo de discussão precisa ser mais aprofundado, considera-se
que, para fins deste artigo ela representa um avanço em termos do entendimento
sobre o significado da criação de novos Municípios.
Com relação ao
segundo processo antes referido, o de integração social, cabe aqui discutir
brevemente o entendimento sobre a expressão qualidade de vida, de modo a
construir uma base analítica para investigar as conseqüências da criação de
novos Municípios no que diz respeito à melhoria ou agravamento das condições de
vida de sua população.
Um aspecto
importante a ser inicialmente observado é que expressão qualidade de vida,
similarmente à fragmentação territorial, que está ancorada nas teorias do
espaço e nos conceitos de território, cidade, urbano e poder, também possui uma
base teórico-conceitual, ancorada no “welfare state” (Estado do bem-estar
social) e no conceito de eqüidade. A despeito disso, a preocupação dos
estudiosos do assunto, na maioria das vezes, está centrada na busca de
parâmetros, indicadores e modelos para mensurar a qualidade de vida Brito (in
Steinberger 2001b: 23) relata que:
A idéia de
qualidade em contraposição à de quantidade […] nasceu no mundo da empresa
privada, nos anos 50. Concebida, inicialmente, como aptidão dos produtos em
relação aos usos, passou a significar satisfação de necessidades e hoje é entendida
como atendimento a certas especificações. Por outro lado, o mundo dos serviços
públicos […] apresenta uma dimensão ideológica que constitui o denominado ‘mito
legitimante’, base do Estado do Bem-Estar Social, em que o acesso e o padrão de
qualidade dos serviços deve ser igual para todos. Nesse mundo, ao contrário do
anterior, não há clientes que realizam uma demanda ativa, mas usuários que
realizam uma demanda passiva.
O “welfare
state” foi a alternativa histórica, das sociedades capitalistas do pós-guerra,
para tratar das desigualdades sociais. A partir daí buscou-se uma ação
combinada entre política econômica e Estado do bem-estar social. Enquanto a
primeira proporcionava crescimento a segunda amenizava tensões e conflitos
gerados por este, objetivando alcançar uma distribuição mais eqüitativa dos
seus frutos e, conseqüentemente, melhorar a qualidade de vida.
Souza (in
Fernandes, 1997: 6) considera que a definição de qualidade de vida abrange
tanto “a distribuição dos bens de cidadania – os bens e direitos que uma
sociedade, em dado momento, julga serem essenciais – quanto à de uma série de
bens coletivos de natureza menos tangível e nem por isso menos reais em suas
repercussões sobre o bem-estar social”. Dessa forma, para a autora, qualidade
de vida pode ser vista como a totalidade das condições nas quais as pessoas
vivem.
Nicácio (1982)
ressalta que o avanço tecnológico e o aumento do nível de renda contribuíram
para o crescente número de estudos sobre qualidade de vida. Argumenta que, ao
se considerar a qualidade de vida de uma forma ampla, o uso dos indicadores
meramente econômicos, como o Produto Nacional Bruto (pnb) e a renda per capita, passa a ser questionado tendo em
vista que o crescimento econômico implica num custo ambiental e social. Assim,
o autor enfatiza que os estudos mais recentes têm se dedicado a apontar
indicadores que envolvem fatores ambientais, políticos, econômicos e sociais.
Nesse sentido, ele identifica indicadores mais diretamente relacionados às
necessidades básicas do indivíduo no que diz respeito a sua sobrevivência:
saúde, habitação, segurança, transporte e educação. Villarinho (2000: 59)
sugere que a qualidade de vida seja definida por três aspectos:
O primeiro diz
respeito ao nível de acesso aos bens de serviços (saúde, transporte,
saneamento, educação, moradia, alimentação, lazer, cultura, etc.). O segundo, à
urbanidade (relação de vizinhança) e o último, à qualidade ambiental do local
(área de moradia – adequada ou não, existência de local apropriado para colocar
o lixo, etc.).
Estes tipos de
indicadores, mais voltados para o social, tem sido muito utilizados por
organismos nacionais, como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (ipea), e internacionais, como o Banco
Mundial e a Organização das Nações Unidas (onu),
principalmente no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (pnud), onde se adota o Índice de
Desenvolvimento Humano (idh)
construído a partir da combinação de esperança de vida, nível de educação e
rendimento e em diferentes âmbitos geográficos: internacional, nacional,
regional e local.
Além disso,
cumpre destacar que a definição de qualidade de vida varia também de acordo com
o enfoque da área de conhecimento em que está sendo aplicada. Por exemplo, nos
estudos na área de saúde, a ênfase é para a qualidade de vida física do
indivíduo. Já na Administração e na Economia, o enfoque volta-se para a
promoção de saúde no local de trabalho visando o aumento de produtividade. Na
área do Planejamento Urbano, por sua vez, são considerados indicadores de
infra-estrutura.
No que diz
respeito à criação de novos Municípios, acredita-se que esta discussão sobre
qualidade de vida contribui para identificar os tipos de indicadores mais
relevantes para se empreender a análise do caso da Região Norte. Entretanto,
não basta dizer que se devem adotar indicadores sociais, econômicos, ambientais
e políticos em uma análise das conseqüências da fragmentação para a qualidade
de vida. É necessário considerar especificidades regionais como a extensão, a
densidade, a localização.
3. O caso da Região
Norte
A Região Norte
(figura ii) compreende sete
Estados (Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins), possui uma
área de 3’852,967.6 km² (ibge,
2002) que corresponde a maior parte da área da Amazônia Brasileira e, embora
apresente uma baixa densidade demográfica (de 3.35 habitantes por quilômetro
quadrado enquanto a do Brasil era de 19.92 em 2000) vem se destacando no
contexto do país por vir se urbanizando de forma acelerada nas últimas décadas.
Alguns números ilustram que o crescimento da população urbana e total foram
superiores à média nacional.
Figura ii
Localização dos
municípios criados após 1988 na Região Norte, foco do estudo de caso deste
trabalho – por Estado
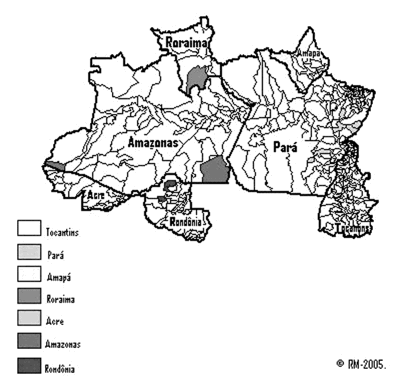
Segundo ipea/ibge/Unicamp – Universidad de
Campinas – (2001), a taxa média anual de crescimento da população total entre
1970 e 1980 foi de 4.9%, enquanto a média nacional foi de 2.5%. Entre 1980-91 e
1991-96 essa situação se manteve e, novamente, a Região Norte teve taxas de
crescimento da população total superiores à média nacional. Enquanto a Região
Norte cresceu 3.9%, em 1980-91, a taxa do Brasil foi de 1.7%. Entre 1991-96, a
região teve uma taxa de 2.4%, sendo que o Brasil cresceu 1.4%. Em relação à
população urbana, as taxas de crescimento também foram superiores à média
nacional. Nos mesmos períodos estas foram respectivamente de 6.6%, 5.9% e 3.5%,
enquanto à média nacional foi de 4.4%, 3% e 2.1%.
Quanto ao grau de urbanização da Região Norte no
período de 1950-2000, embora este não tenha sido superior à média nacional,
sofreu um aumento gradativo ao longo deste período passando de 42.6% (1970),
50.8% (1980), 57.8% (1991), alcançando 62.4% (1996) (ipea/ibge/Unicamp, 2001).
Analisando-se a
Região Norte sob o ponto de vista da fragmentação territorial é possível
observar que nesta a fragmentação processou-se de maneira intensa. Considerando
os sete estados, conforme o quadro 1 em anexo, o número de Municípios que
existia antes da Constituição de 1988 e o ano de 2000, passou de 248 para 449.
Destes, o Estado com mais Municípios em 2000, era o Pará, com 143, seguido pelo
Tocantins, com 139, exatamente os mesmos que mais criaram novos Municípios: 81
em Tocantins e 56 no Pará.
Em contraponto,
ainda de acordo com o quadro 1, o Estado que menos se fragmentou foi o
Amazonas, onde apenas três novos municípios foram criados. Os demais tiveram o
número de municípios mais que duplicado após 1988.
Quadro 1
Número de
municípios criados antes e depois de 1988
|
Antes |
Depois |
Total |
|
|
1. Acre |
12 |
10 |
22 |
|
2. Amapá |
5 |
11 |
16 |
|
3. Amazonas |
59 |
3 |
62 |
|
4. Pará |
87 |
56 |
143 |
|
5. Rondônia |
19 |
33 |
52 |
|
6. Roraima |
8 |
7 |
15 |
|
7. Tocantins |
58 |
81 |
139 |
|
Total |
248 |
201 |
449 |
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ibge, 2003).
Tendo em vista a
impossibilidade de analisar a qualidade de vida em todos os 201 Municípios
criados após 1988, inicialmente, dois critérios foram estabelecidos para
selecionar alguns Municípios que se constituirão em estudos de caso do presente
artigo: grau de urbanização superior a 50% e, simultaneamente, população total
acima de 10 mil habitantes.
O patamar de
50%, considerado médio, foi definido porque está se supondo que a criação de
Municípios está relacionada com o crescimento urbano. Com esse critério, 124
dos 201 Municípios ficariam excluídos, restando 77. Entretanto, quando se
observa o tamanho da população, verifica-se que 56 destes 77 têm menos de 10
mil habitantes. Com isso, apenas 21 Municípios seriam objeto de análise,
implicando que os pertencentes aos Estados de Rondônia, Acre e Amapá estariam
pouco representados e os do Amazonas e Roraima não apareceriam. Para tanto,
baixou-se o patamar demográfico para 5 mil habitantes e abriu-se uma exceção
para os Estados de Roraima e Amazonas, diminuindo-se o grau de urbanização para
40%. Assim, chegou-se a 36 Municípios envolvendo todos os Estados da Região
Norte, sendo: 16 do Pará, 10 do Tocantins, 3 de Rondônia, 4 do Amapá, 2 do
Amazonas, 1 de Roraima e 1 do Acre. Destes, 13 estão na faixa de 5 a 10 mil
habitantes, 10 na faixa de 10 a 20 mil, 10 na faixa de 20 a 50 mil, 3 na faixa
de 50 a 100 mil e, 1 com mais de 100 mil, significando que há uma certa
proporcionalidade dessa distribuição com o número total de Municípios criados.
Uma vez
definidos os critérios foi elaborada uma listagem contendo a relação dos 36
Municípios criados após 1988 (quadro 2 e figura ii
em anexo) juntamente com os Municípios equivalentes dos quais estes novos foram
desmembrados.
Quadro 2
Municípios
criados após 1988 na Região Norte – por Estado
|
UF1 |
Municípios |
Desmembrado2 |
Ano |
População |
População |
Grau de |
|
|
novos |
instalação2 |
total3 |
urbana3 |
urbanização |
|||
|
1 |
AC |
Epitaciolândia |
Brasiléia |
01/01/1993 |
11,028 |
7,404 |
67.1 |
|
2 |
AM |
Apuí |
Novo Aripuanã |
01/01/1989 |
13,864 |
6,126 |
44.2 |
|
3 |
AM |
Guajará |
Ipixuna |
01/01/1989 |
13,220 |
6,220 |
47 |
|
4 |
AP |
Laranjal do Jari |
Mazagão |
01/01/1989 |
28,515 |
26,792 |
93.9 |
|
5 |
AP |
Porto Grande |
Macapá |
01/01/1993 |
11,042 |
7,374 |
66.8 |
|
6 |
AP |
Santana |
Macapá |
01/01/1989 |
80,439 |
75,849 |
94.2 |
|
7 |
AP |
Vitória do Jari |
Laranjal do Jari |
01/01/1997 |
8,560 |
6,880 |
80.4 |
|
8 |
PA |
Abel Figueiredo |
Bom Jesus do |
01/01/1993 |
5,957 |
4,897 |
82.2 |
|
Tocantins |
|||||||
|
9 |
PA |
Brejo Grande |
São João do |
01/01/1989 |
7,464 |
4,255 |
57 |
|
do Araguaia |
Araguaia |
||||||
|
10 |
PA |
Concórdia |
Bujaru |
29/01/1989 |
20,956 |
10,848 |
51.8 |
|
do Pará |
|||||||
|
11 |
PA |
Curionópolis |
Marabá |
01/01/1989 |
19,486 |
13,250 |
68 |
|
12 |
PA |
Dom Eliseu |
Paragominas |
01/01/1989 |
39,529 |
23,801 |
60.2 |
|
13 |
PA |
Goianésia |
Rondon do |
01/01/1993 |
22,685 |
14,878 |
65.6 |
|
do Pará |
Pará |
||||||
|
14 |
PA |
Mãe do Rio |
Irituia |
01/01/1989 |
25,351 |
18,738 |
73.9 |
|
15 |
PA |
Marituba |
Benevides |
01/01/1997 |
74,429 |
64,884 |
87.2 |
|
16 |
PA |
Palestina |
Brejo Grande |
01/01/1993 |
7,544 |
3,840 |
50.9 |
|
do Pará |
do Araguaia |
||||||
|
17 |
PA |
Parauapebas |
Marabá |
01/01/1989 |
71,568 |
59,260 |
82.8 |
|
18 |
PA |
São Domingos |
São João do |
01/01/1993 |
20,005 |
10,878 |
54.4 |
|
do Araguaia |
Araguaia |
||||||
|
19 |
PA |
São João de |
Primavera |
01/01/1989 |
17,484 |
9,832 |
56.2 |
|
Pirabas |
|||||||
|
20 |
PA |
Tailândia |
Acará |
01/01/1989 |
38,435 |
28,128 |
73.2 |
|
21 |
PA |
Terra Santa |
Faro |
01/01/1993 |
14,592 |
10,965 |
75.1 |
|
22 |
PA |
Tucumã |
São Félix do |
01/01/1989 |
25,309 |
16,496 |
65.2 |
|
Xingu |
|||||||
|
23 |
PA |
Ulianópolis |
Paragominas |
01/01/1993 |
19,254 |
11,909 |
61.8 |
|
24 |
RO |
Buritis |
Campo Novo |
01/01/1997 |
25,668 |
15,334 |
59.7 |
|
de Rondônia |
|||||||
|
25 |
RO |
Candeias |
Porto Velho |
01/01/1993 |
13,107 |
9,354 |
71.4 |
|
do Jamari |
|||||||
|
26 |
RO |
Itapuã do Oeste |
Porto Velho |
01/01/1993 |
6,822 |
3,677 |
53.9 |
|
27 |
RR |
Rorainópolis |
São João da |
01/01/1997 |
17,393 |
7,185 |
41.3 |
|
Baliza |
|||||||
|
28 |
TO |
Aliança do |
Gurupi |
01/01/1989 |
6,177 |
5,120 |
82.9 |
|
Tocantins |
|||||||
|
29 |
TO |
Barrolândia |
Miracema do |
01/06/1989 |
5,082 |
4,188 |
82.4 |
|
Tocantins |
|||||||
|
30 |
TO |
Buriti do |
São Sebastião |
01/06/1989 |
7,842 |
6,116 |
78 |
|
Tocantins |
do Tocantins |
||||||
|
31 |
TO |
Colméia |
Araguacema |
01/01/1997 |
9,352 |
6,358 |
68 |
|
32 |
TO |
Divinópolis |
Miracema do |
01/06/1989 |
5,776 |
3,987 |
69 |
|
do Tocantins |
Tocantins |
||||||
|
33 |
TO |
Lagoa da |
Cristalândia |
01/01/1993 |
6,168 |
3,396 |
55 |
|
Confusão |
|||||||
|
34 |
TO |
Palmas |
Porto Nacional |
01/01/1990 |
137,355 |
134,179 |
97.7 |
|
35 |
TO |
Praia Norte |
Itaguantins |
01/06/1989 |
6,781 |
3,475 |
51.2 |
|
36 |
TO |
Santa Fé |
Araguaína |
01/01/1993 |
5,507 |
3,368 |
61.1 |
|
do Araguaia |
1 AC:
Acre, AM: Amazonas, AP: Amapá, PA: Pará, RO: Rondônia, RR: Roraima, TO:
Tocantins.
2
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ibge, http://www.ibge.gov.br), Informações especiais
solicitadas em junho de 2003.
3 Fonte:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ibge, http://www.ibge.gov.br), Censo Demográfico 2000.
Para avaliar até
que ponto a fragmentação municipal ocorrida na Região Norte após 1988
contribuiu para melhorar ou não a qualidade de vida nos Municípios novos e nos
que deram origem a estes, escolheu-se como indicador, a título de ensaio, o
número de domicílios ligados à rede geral de água. Esta escolha justifica-se
porque os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável ibge (2002), consideram que a água tratada
é fundamental para a melhoria das condições de saúde e higiene da população e,
associado a informações ambientais e socioeconômicas, incluindo outros serviços
de saneamento, saúde, educação e renda, é um indicador universal de
desenvolvimento sustentável. “Trata-se de um indicador importante para a
caracterização básica da qualidade de vida da população, quanto ao
acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico e ambiental” (ibge, 2002: 114).
A partir das
informações levantadas sobre população total, total de domicílios e total de
domicílios ligados a rede geral de abastecimento de água para os Municípios
antigos e os novos, criados após 1988, foram realizadas duas comparações: a
primeira entre os dados dos Municípios antigos em 1980 e 2000; e a segunda,
entre os Municípios antigos em 1980 e eles mesmos em 2000 juntamente com os
dados dos novos Municípios que deles foram desmembrados.
A primeira
comparação mostrou que, na maior parte dos Municípios antigos houve uma
melhoria na porcentagem de domicílios ligados à rede geral de abastecimento de
água, sendo que em alguns de Tocantins, como Miracema do Tocantins, Araguaína,
Cristalândia e Porto Nacional, essa melhoria, entre 1980 e 2000, foi muito
significativa. No primeiro passou de 9.1% em 1980 para 80.2% em 2000, no
segundo de 19.6% para 84.4%, no terceiro de 24.4% para 81.7% e, no último, de
24.2% para 79.4%. Apenas nos Municípios de Macapá (ap) e São Félix do Xingu (pa)
houve um declínio na porcentagem de domicílios ligados à rede geral, caindo,
respectivamente, de 57.8% em 1980, para 53.2% e de 15% para 5% em 2000.
Entretanto, cabe ressaltar que, em alguns Municípios como Mazagão que já tinha
em 1980 uma pequena porcentagem de domicílios ligados à rede geral (0.9%),
embora esse número tenha aumentado para 13.8% em 2000, essa melhoria foi
pequena.
Quanto à segunda
comparação, pode-se constatar que na maior parte dos Municípios as porcentagens
de domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água apresentaram uma
melhoria expressiva em seus números. Destaque-se Porto Nacional (to), onde a população que vivia em seu
território em 1980 possuía 24.2% de seus domicílios ligados a rede geral de
abastecimento de água, número este que analisado conjuntamente com Porto
Nacional e Palmas, em 2000, passa a ser de 89.6%. Já Miracema do Tocantins (to), cujo percentual era de 9.1% em
1980, passou para 75.1% em 2000, considerando-se não só Miracema de Tocantins,
como os novos Municípios criados a partir do seu território: Barrolândia e
Divinópolis de Tocantins. E por fim, Araguaína, com 19.6% em 1980, atingiu
83.2% em 2000 (considerando-se Araguaína e o Município que dele foi
desmembrado, Santa Fé do Araguaia).
Um outro tipo de
análise, realizada também com o número de domicílios ligados à rede de água,
mas usando o atendimento per capita, mostra que, dentre os Municípios
antigos, em 1980, destacam-se como melhores: Macapá onde, para cada 1000
pessoas, 160 moravam em domicílios ligados a rede geral e Porto Velho 71. Ao
contrário, os piores eram Acará (pa)
com sete e Ipixuna (am) com
quatro.
Com relação aos
36 novos Municípios, os dados mostram que 20 deles, em 2000, possuíam mais de
100 pessoas em cada 1000 residindo em domicílios ligados à rede geral de
abastecimento de água, demonstrando que estes são mais bem atendidos do que os
Municípios antigos. O principal destaque é para o Município de Palmas (to) onde, em cada 1000 pessoas 236
residiam em domicílios que tinham acesso à rede de abastecimento de água. Entre
os com pior situação, estavam Buriti (ro)
e Apuí (am) que apresentavam
números menores que um.
Em síntese, a
análise do número de domicílios ligados à rede geral de água, em 33 Municípios
antigos e 36 novos, indica que houve uma melhoria na maior parte deles
comparando-se os anos de 1980 e 2000. No entanto, a análise deixou claro também
que, apesar de alguns números terem aumentado, a parcela da população que
reside em domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água ainda é
muito pequena, como confirma a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – pnsb realizada pelo ibge (2005) nos 5,507 Municípios do
Brasil.
No que se refere
ao abastecimento de água, os dados desta pesquisa mostram que, comparando-se às
demais, a Região Norte (juntamente com a Nordeste) é a que apresenta os piores
números relacionados a este indicador. Em relação à quantidade de domicílios
abastecidos por rede geral, enquanto a Região Sudeste se destaca por apresentar
em 2000 uma porcentagem de 70.5% de domicílios atendidos, na Região Norte a
proporção é de apenas 44.3%. A Região Norte é também a que apresenta o mais
baixo índice de ligações com medidores (hidrômetros). Enquanto no Sudeste 91%
das ligações são medidas, na Região Norte esse número é de apenas 37%. A
pesquisa ilustra também que no que se refere ao volume da água tratada, há uma
diferença de padrão na Região Norte com as outras regiões do país. Enquanto no
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste mais de 90% da água distribuída recebem
algum tipo de tratamento, no Norte este percentual é somente de 67.6%. Além
disto, dos 116 Municípios sem serviço de abastecimento de água por rede geral no
Brasil, a maior parte deles está situada na Região Norte e Nordeste, o que
força estas localidades a terem que utilizar como alternativas para o
abastecimento: chafarizes e fontes, poços particulares e caminhões-pipa.
Por fim, outro
fator agravante apresentado pela mesma pesquisa é que a abrangência do
abastecimento de água varia de acordo com a quantidade de população dos
Municípios. Nesse sentido, “os menores municípios apresentam maior deficiência
nos serviços, e apenas 46% dos domicílios situados em municípios com até 20 000
habitantes contam com abastecimento de água por rede geral” (ibge, 2002: 32). Tendo em vista que boa
parte dos novos municípios da Região Norte se encontra nessa faixa de
população, como já discutido anteriormente, a situação da região é bastante
preocupante, requerendo uma maior atenção por parte dos governantes.
Conclusões
Este trabalho
teve como objetivo avaliar as mudanças ocorridas na qualidade de vida da
população dos novos Municípios da Região Norte usando-se como indicador, o
número de domicílios ligados a rede geral de água. As informações obtidas a
partir da comparação entre os dados do Censo Demográfico de 1980 e 2000 do ibge comprovaram, em quase todos os
casos, que houve de fato uma melhoria. Mas serviram também para ilustrar que na
maioria deles estas condições de vida ainda estão muito abaixo daquelas
encontradas nas demais regiões do país. Para comprovar efetivamente estas
conclusões faz-se necessário agregar outros indicadores (de saúde, educação,
renda) a fim de que se possa ter uma visão mais abrangente da situação dos
novos Municípios criados na Região Norte a partir de 1988. Acredita-se que o
conhecimento dessa realidade regional possa subsidiar decisões governamentais
de investimento que, em última análise, buscam promover o desenvolvimento e a
melhoria da qualidade de vida da população. Vale ainda registrar que esta
região envolve a maior parte da Amazônia Brasileira, uma das áreas mais visadas
em termos internacionais na última década.
Bibliografia
Becker, Bertha
K. (1990), Amazônia,
Ática, São Paulo.
______ (2000),
“Cenários de curto prazo para o desenvolvimento da Amazônia”, Cadernos
do ippur, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, jan/jul, xiv (1): 53-86.
______ (2003),
“Amazônia: mudanças estruturais e urbanização”, in Maria Flora Gonçalves et
al. (orgs), Regiões
e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional, unesp/anpur,
São Paulo.
Borja, Jordi
(1997), “As cidades e o planejamento estratégico: uma reflexão européia e
latino-americana”, in Tânia Fischer (org.), Gestão
contemporânea. Cidades estratégicas e organizações locais, Fundação Getúlio Vargas, Rio de
Janeiro, pp. 76-99.
Corrêa, Roberto
Lobato (1994), “Territorialidade e corporação: um exemplo”, in Milton Santos
et al. (orgs.), Território,
globalização e fragmentação,
Hucitec/anpur, São Paulo.
______ (1995),
“Espaço: um conceito-chave da Geografia”, in Iná Elias de Castro, Paulo César
da Costa Gomes e Roberto Lobato Corrêa, Geografia:
conceitos e temas,
Bertrand Brasil, Rio de Janeiro.
Fernandes, Maria
Augusta (1997), Indicadores de qualidade de vida:
um estudo de caso em quatro áreas periféricas do Distrito Federal, dissertação (Mestrado em
Planejamento Urbano), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de
Brasília.
Ferreira, Olavo
Leonel (1986), História do Brasil, Ática, São Paulo.
Freitas, Ronald
(1998), “Tem festa no interior. Leis brandas e controles frágeis levaram à
explosão do número de municípios no país desde 1988: muitos deles sem estrutura
alguma”, Época,
15 de fevereiro/junho, 1 (4): 30-33.
ibam
(Instituto Brasileiro de Administração Municipal) (2004), O
Município no Brasil,
http://www.ibam.org.br.
ibge (2002), Indicadores
de desenvolvimento sustentável,
ibge, Diretoria de Geociências, Rio de Janeiro.
______ (2003),
informações especiais, Denise Teixeira Medeiros, deati/cddi/ibge.cddi.di@ibge.gov.br, solicitação de
informações, proto de 14506 (mensagem pessoal), mensagem recebida de ibge Antendimento Cidades@webmaster
@ibge.gov.br em 3 junho.
______ (2005), Censo
Demográfico,
http://www.ibge.gov.br.
ipea/ibge/Unicamp
(2001), Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil:
redes urbanas regionais: Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ipea,
Brasília.
Lefebvre, Henri
(1999), A cidade do capital, dp & a,
Rio de Janeiro.
Limana, Amir
(1999), “O processo de descentralização político-administrativa no Brasil”, Scripta
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, ago, 45
(21), http://www.ub.es/geocrit/sn-45-21.htm.
Nicácio, Ricardo
Manoel (1982), O impacto da Zona Franca sobre a
qualidade de vida em Manaus,
esaf, Brasília.
Preteceille,
Edmond (1996), “Segregação, classes e política na grande cidade”, Cadernos
do ippur/ufrj, Rio de Janeiro, ago/dez, x (2): 15-37.
Raffestin,
Claude (1993), Por uma geografia do poder, Ática, São Paulo.
Rodrigues,
Alcides Redondo (2003), A evolução do Município no Brasil, ibam,
http://www.ibam.gov.br.
Rolnik, Raquel
(1988), O que é cidade? Editora Brasiliense, São Paulo.
Souza, Maria Adélia
Aparecida de (1997), Cidade: Lugar e geografia da
existência, 5º
Simpósio Nacional de Geografia Urbana, de 21 a 24 de outubro, Salvador.
Souza, Celina
(1998), Relações intergovernamentais e a reforma da
administração pública local,
trabalho apresentado no Seminário A Reforma da Administração Pública:
Possibilidades e Obstáculos, Recife, 20-21 ago. Disponível em
http://www.fundaj.gov.br/docs/eg/semi10.rtf.
Souza, Marcelo
José (1995), “O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento”,
in Iná Elias Castro et al. (orgs.). Geografia:
conceitos e temas,
Bertrand, Rio de Janeiro, pp. 77-116.
Steinberger,
Marília (1994), Uma história dentro da História:
personagens no tempo e no espaço,
tese de doutoramento defendida junto à fau/usp
(mimeo), janeiro, São Paulo.
______ (2001a),
“A rede urbana no zoneamento ecológico-econômico”, Memórias
das Discussões sobre Zoneamento Ecológico-Econômico, sds/mma,
Brasília, cd-rom.
______ (2001b),
“A (re)construção de mitos sobre a (in)susten-tabilidade do(no) espaço urbano”,
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, maio, 4: 9-32.
______ e Marta
Romero (2000), “Reflexões preliminares sobre as dimensões demográficas urbanas
do zoneamento ecológico-económico”, Anais xii Encontro abep, Caxambu, cd-rom.
______ e Ignez
B. Ferreira (2003), “Reflexões sobre uma política nacional de desenvolvimento
urbano para o Brasil”, ix
Colóquio Internacional sobre Poder Local, Nepol/ufba,
Salvador, cd-rom.
Veiga, José Eli
da. (2002), Cidades imaginárias: o Brasil é mais urbano do que se
calcula, Autores
Associados, Campinas.
Villarinho,
Adriana de Lima (2000), Urbanização acelerada e qualidade
de vida, 156 f.,
dissertação (Mestrado em Geografia), Instituto de Ciências
Huamanas/Departamento de Geografia, Universidade de Brasília.
Weber, Max
(1987), “Conceito e categoria de cidades”, in Otávio Velho (org.). O
fenômeno urbano,
Zahar Editores, Rio de Janeiro.
Recibido:
1 de julio de 2005.
Reenviado:
18 de septiembre de 2005.
Aceptado:
4 de octubre de 2005.
Marília Steinberger, economista, doctora en planeación urbana, regional y
ambiental por la Universidad de São Paulo. Profesora de Geografía Política y
Geografía Económica en los cursos de graduación y maestría del Departamento de
Geografía de la Universidad de Brasilia (unb). Desarrolla investigaciones en el
Núcleo de Estudios Urbanos y Regionales (neur/unb)
en las áreas de política urbana, regional y ambiental con trabajos publicados
sobre estos temas. Entre sus publicaciones cabe destacar la organización del
libro Espaço, território e ambiente em políticas públicas, Paralelo 15, 2005, Brasilia (en
imprenta); junto con Diana Meirelles da Motta y Adauto Lúcio Cardoso, Instrumentos
de planejamento e gestão urbana: Brasília e Rio de Janeiro, ipea,
Brasilia, 2003; y con Theodelina Amado tiene el artículo “Zonificación
ecológico-económica como instrumento de gestión ambiental urbana-rural: el caso
de la Amazônia brasileña”, Cuadernos de Cendes, Caracas, vol. 53, pp. 71-84, 2003.
Regina de Souza Maniçoba es geógrafa, maestra en geografía por
la Universidad de Brasilia y está por doctorarse en el Centro de Desarrollo
Sustentable en la misma universidad. Ha desarrollado investigaciones referentes
a la urbanización, sobre la cual ya posee los siguientes trabajos: en coautoría
con Marília Steinberger, “Brasília capital nacional-regional: Brasília cidade
mundial?”, Publicaciones del v
Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre
Globalización y Territorio,
Toluca, México, 1999 (cd-rom);
“Descentralização e fragmentação territorial no período pós constituição
brasileira de 1988: o caso da região norte”, Publicaciones
del viii Seminario Internacional
de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio, Río de Janeiro, 2004 (cd-rom), y “Brasília como cidade mundial
sob o ponto de vista de aspectos não-econômicos”, revista Espaço
e Geografia, Brasília,
Departamento de Geografía y Programa de Posgrado en Geografía, año 4, núm. 1,
pp. 119-132, 2001.